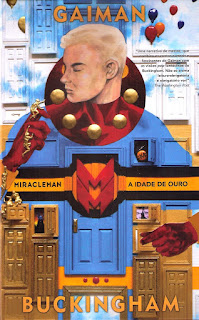Há temas mais duros e
difíceis do que outros. Há mesmo temas que não sabemos sequer como começar a
abordar; ou como reagir se outros os abordam, sobretudo quando os abordam de
forma simultaneamente crua e inteligente. Mas há também um preço a pagar pelo
silêncio, pelo arrumar de problemas onde (esperemos) não nos assombrem. O
conjunto de ilustrações mudas que compõem o livro “cancer” de Tilda Markström
(Mmmnnnrrrg) são uma resposta possível a este tipo de inquietações, um conjunto
de notáveis desenhos à volta do (de um) cancro, da sua evolução e, sem rodeios,
da morte que dele resultou, já que nem sempre a Arte resgata.
Mas “cancer” é também
uma reflexão sobre a perda e de como a dor pode formar metástases, tanto como o
tumor em si. A qualidade evocativa e sintética das ilustrações conta uma
história clara e inexorável sem necessidade de palavras. Mas, para além de
alguns pormenores do traço, são as iniciais a denunciar o autor. De facto,
Tiago Manuel lança aqui mais um dos seus heterónimos, uma pintora sueca com um
estilo mais simples e mais direto na sua simbologia do que a maioria dos
heterónimos anteriores. Uma autora capaz de fazer passar imagens líricas,
seguidas de violência, seguidas de dor, seguidas de várias formas de ausência,
sendo as piores as que se adivinham sem se ver. Desde o diagnóstico, aos
tratamentos e suas sequelas, à morte adivinhada por um cobertor vazio, seguimos
um percurso de desagregação quase desejando não o fazer, mas não evitando virar
as páginas. Para ir atrás da aranha/caranguejo que representa a doença, a teia
que a espalha, as cicatrizes de mastectomia, as próteses, as metástases
vermelhas, implacáveis, conquistando todo o corpo. Lançar este livro numa época
natalícia pode parecer estranho, mas é exatamente o que a obra pede. Chocar,
não no sentido de chocante, mas no sentido de abordar (atropelar?) o leitor de
frente.
Em “cancer” há
pormenores reveladores quanto ao modo íntimo com que Tiago Manuel aqui se
expõe. A obra, diz a ficha técnica, estava pronta há treze anos. “Tilda
Markström” faleceu em 2012, de acordo com a biografia apresentada; é duvidoso
que a voltaremos a apreciar. As cartas (bilingues, português e inglês) que
procuram contextualizar a perda de uma companheira no final do livro (de modo
um pouco supérfluo, até) soam a um ambiente familiar do sul da Europa, embora
nem toda a vida familiar na Suécia seja certamente como a retratou Bergman. E o
vulto fantasmagórico que ampara a paciente na parte final é claramente masculino.
Pouco importa. Com os desenhos que compõem “cancer” Tilda Markström ajudou
Tiago Manuel a por em imagens algo que se percebe muito doloroso. Criando uma
sublimação brilhante que, e isto é o que mais importa, transcende as
circunstâncias concretas da sua génese, podendo (devendo) ser apreciado por
todos os que algumas vez sofreram perdas. Por todos, portanto. Desse ponto de
vista este heterónimo cumpriu plenamente o seu papel. Que descanse agora em
paz.
cancer. Texto e desenhos de Tilda Markström (Tiago Manuel). Mmmnnnrrrg.
102 pp., 20 Euros.