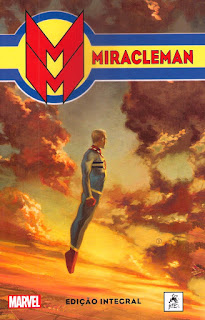Como dizia Tolstoi, as
famílias felizes parecem-se todas; as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua
maneira; e, acrescenta-se, dão mais pano (ficcional) para mangas. Várias obras
interessantes em banda desenhada abordam relações familiares e suas
consequências, sendo particularmente notável “Saga”, escrita por Brian K.,
Vaughan com desenho elegante de Fiona Staples (G. Floy Studio). Nesta série a
miscigenação, o racismo, ou as tensões nacionalistas, relacionais e
geracionais, bem como a aprendizagem mútua constante que decorre disto tudo,
são discutidos de uma forma pungente e realista; embora para tal se utilize um
contexto alegórico de guerra e “space opera”, por detrás do qual se escondem
questões reconhecíveis na sua simplicidade profunda.
Infelizmente o mundo real não permite escapismos, embora
algumas das suas propriedades não fossem consideradas credíveis num registo de
ficção-científica. No segundo tomo da autobiografia “O árabe do futuro”
(Teorema) Riad Sattouf continua o relato de uma infância no Médio Oriente,
focando a escolaridade na Síria de Hafez al-Assad nos anos 1980, e o modo como
a sua família (não) se adapta a um contexto de penúria e controlo, onde a
doutrina oficial e a hierarquia familiar são absolutas, e no qual a sua mãe
(francesa), e sobretudo o seu pai (educado em França) têm dificuldades em
assumir uma posição confortável. Na verdade, se a versão ingénua do Riad
Sattouf-criança é importante para marcar a realidade (a desorganização, o
racionamento, o ódio aos judeus, mas também a beleza do país e a “normalidade”
das pessoas), fulcral mesmo é a posição do seu pai, incapaz de um olhar crítico
que lhe permita resolver as incongruências entre a Síria que crê existir, e a
que o seu filho vê. No fundo, Abdul-Razak al-Sattouf representa o dilema de
todos os conflitos, na medida em que nem quem conhece os dois lados parece
habilitado a intervir de forma útil. Embora mantenha todo o interesse, a
verdade é que este segundo volume repete temas, algo que sublinha o problema
maior do desenho: o traço caricatural, potenciado pela visão infantil, torna
difícil não encarar a obra (também) enquanto caricatura.
Por fim, o imenso sul dos Estados Unidos de onde é natural o argumentista
Jason Aaron, é retratado na série “Southern Bastards” e em “Má Raça” (G. Floy
Studio), como um agregar de espaços minúsculos (físicos e mentais), onde a
religião, o futebol americano, as armas e uma autoridade paternalista
(entendidos enquanto diferentes formas de poder) são fatores identitários.
Dotadas de desenhos apropriadamente diretos e “sujos”, nestas obras a noção de
“família” tem mais a ver com um comungar de espaço e filosofia, e menos com
relações de sangue. Pais e filhos (quase sempre no masculino) repisam dinâmicas
violentas canónicas, e o talento de Aaron está no modo como cria interesse
gerindo o óbvio. Se “Má Raça” é muito previsível, “Southern Bastards” tem o
grande mérito de contextualizar de maneira credível o modo como certas
tendências se reproduzem, humanizando no segundo volume o que no primeiro
parecia arbitrário e abjeto.
Tal como Riad Sattouf, Jason Aaron é uma espécie de “arrependido” convicto,
ambos olhando de fora para mundos que renegaram (por excelentes motivos). E
estes olhares não devem servir, nem para ridicularizar com base na
incompreensão, nem para aceitar acriticamente com base na tolerância. Mas para
algo que ainda não fomos capazes de articular; porque a complexidade, por
definição, não é simples. Se o mundo onde viveu Sattouf está subjacente a
crises na Europa, o mundo onde nascem as histórias de Aaron facilitou a eleição
de Donald Trump. Mundos onde os conflitos elaborados de “Saga” parecem quase
utópicos. Brian K. Vaughan será talvez um otimista, mas, diriam Sattouf e
Aaron, não viveu o que eles viveram. Talvez só criando (semi)ficções poderemos
abordar realisticamente os verdadeiros problemas.
Saga 4 e 5. Argumento de Brian K. Vaughan, desenhos de Fiona Staples. G.
Floy Studio. 150 pp., 11 Euros.
O árabe do futuro 2 (Ser jovem no Médio
Oriente, 1984-1985).
Argumento e desenhos de Riad Sattouf. Teorema. 160 pp., 19,90 Euros.
Má Raça (Men of Wrath). Argumento de Jason Aaron, desenhos de Ron
Garney. G. Floy Studio. 136 pp., 11 Euros.
Southern Bastards vol 1 e 2. Argumento de Jason Aaron, desenhos de Jason
LaTour. G. Floy Studio. 120 pp., 10 Euros.